Berna (Suiça) - Vamos supor que dois de seus amigos, um negro e um branco, se desentendam, comecem a discutir feio e cheguem a se bater, se ferindo e quase se matando. O que você faz? Entra no meio desesperado, tenta apartar e leva também umas porradas ou dá um chute no branco, chamando ele de nazista, ou derruba o outro com uma cacetada, dizendo “toma aí seu negro safado”?
O racismo é um mal quase genético, transmitido de pai e/ou mãe para filho, uma reação para marcar a diferença diante de pessoas diferentes, de níveis sociais inferiores ou vindas de outras culturas. É o medo diante do desconhecido, da pessoa estranha, do estrangeiro. O Brasil é tido e havido como o país exemplo em termos de integração e miscigenação, em comparação com os europeus e o comunitarismo ou convívio social separado dos estadunidenses.
Porém, todos nós sabemos ter se tornado simplesmente latente a carga racista e de intolerância, que nos foi introjetada pelos nossos antepassados, e existir no Brasil uma segregação ou uma sociedade de apartheid em termos de classes sociais, não sendo por acaso que os descendentes dos escravos ocupam o nível inferior, excluídos do processo de emergência social (situação que felizmente vem mudando nestes últimos anos).
No subconsciente da formação da cultura brasileira são ainda recentes palavras pronunciadas em termos depreciativos como preto, índio, turco, judeu, e no Sul, baiano e nordestino, em reação ao fenômeno migratório dos anos 50 a 70. Dizem que, quando os jesuítas faziam a caça aos cristãos novos ou marranos (judeus convertidos ao catolicismo emigrados ao Brasil para escaparem à Inquisição, instaurada na Espanha, de Isabel, e que se estendeu a Portugal), aplicavam a pena máxima para os pais, geralmente a fogueira como purificação, e, num requinte de amor ou de perversidade, colocavam no convento e no seminário muitas dessas crianças tornadas órfãs.
Essa prática extirpou a memória marrana da colônia, tanto que, na expulsão dos holandeses do Recife, os portugueses vencedores aceitaram deixar partir uns poucos judeus brasileiros, desde que não batizados cristãos, e que acabaram indo para a ilha de Manhatan, governada na época pelo holandês Peter Stuyvesant, pioneiros da enorme comunidade judaica existente hoje em Nova Iorque.
Os outros descendentes dos marranos, com nomes de árvores, acidentes geográficos, animais, metais não se lembraram mais da falsa conversão de seus pais, tornaram-se fiéis católicos como o padre Antonio Vieira, e muitos acabaram mesmo anti-semitas.Por que essa conversa ? Porque estou assustado com certas mensagens circulando no Brasil, na Internet alternativa, relacionadas com o confronto Israel e Hamas, por aflorarem na crítica a Israel um indisfarçável anti-semitismo, assim como, logo depois dos atentados às torres gêmeas confundiam-se terroristas com árabes.
Infelizmente, não são de hoje as lutas envolvendo israelenses e palestinos naquela região e toda vez que surge uma esperança de paz, logo é afogada com ações de um ou do outro lado adiando essa esperança, sejam atentados, sejam implantações de colônias. À vocação incendiária de uns tantos, gostaria de propor que adotemos a ação do bombeiro, para se evitar uma danosa exportação do conflito. Tenho amigos judeus, tenho amigos árabes, tenho amigos palestinos, que aqui na Europa podem viver em paz, e acho que uma paz definitiva entre israelenses e palestinos só seria mesmo pesadelo para os mercadores de armas.
Faz algum tempo, fui obrigado a me indispor com um amigo que, num texto infeliz, escrevera lamentar que Hitler não tivesse terminado seu trabalho. Esse mesmo tipo de reflexão tem surgido em blogs, numa explosão racista que se aproveita de um momento de crítica geral a Israel. Posso defender agora os judeus, porque na minha vivência na Europa sempre defendi meus amigos imigrantes árabes, seja quando ameaçados pela extrema-direita de Le Pen ou pela extrema-direita suíça de Blocher.
Uma interpretação imparcial da situação entre israelenses e palestinos não é simples. Embora a Onu tenha reconhecido a existência de Israel como Estado, em parte também graças ao nosso estadista Oswaldo Aranha, o movimento Fatha, de Yasser Arafat, demorou algumas décadas para reconhecer o direito dos israelenses terem ali seu Estado. Em contrapartida, ainda hoje existem extremistas israelenses incapazes de aceitar o convívio com um Estado Palestino.
Lembro de que, nos anos 80, a revista francesa Nouvel Observateur, pró-israelense mas favorável à reivindicação palestina de um Estado, alertava Israel para chegar logo a um acordo com o Fatha, partido laico não religioso, porque se os religiosos islamitas assumissem o controle da região, seria muito mais difícil. A previsão se confirmou e o Hamas, movimento religioso islamita contrário à existência de Israel, não se satisfaz com a criação de um Estado palestino. Para complicar ainda mais uma interpretação da situação não se pode esquecer que, há alguns meses, as duas facções palestinas, o Fatha não religioso e o Hamas religioso estavam em luta aberta, com metralhadoras e mortos de ambos os lados.
Por mais absurdo que possa parecer, existem entre os israelenses e os palestinos os partidários da política do quanto pior melhor – do lado israelense, o ex-primeiro-ministro e novamente candidato Benjamin Natanayou, sob cujo governo houve uma arrogante expansão das colônias israelenses nos territórios ocupados, e o Hamas que, ao lançar foguetes sobre Israel provocou a criação de uma aliança nacional, da qual passou a fazer parte até um importante líder do diálogo, o escritor Amos Oz.
Não é hora de se jogar lenha na fogueira, mas de se esperar que os países árabes, os europeus e a nova direção estadunidense encontrem um meio de se impor ou se obter uma trégua prolongada, entre israelenses e palestinos, para que nem um nem outro se joguem foguetes nem bombas. E que se respeitem e se tolerem, até que o ódio, alimentado em grande parte pelas dissensões religiosas, diminua e dê lugar ao convívio pacífico.
Vi, há muitos anos, no Forum de Davos, aquele dia memorável em que Arafat et Shimon Peres se deram as mãos, enquanto se falava na criação um desenvolvimento mútuo – israelense e palestino – da região.
Artigo do jornalista Rui Martins, originalmente publicado no site Direto da Redação
Rui Martins foi correspondente do Estadão e da CBN, após exílio na França. Escreveu "O Dinheiro Sujo da Corrupção", sobre a Suíça e Maluf. Vive em Berna, Suíça, e colabora com os jornais portugueses "Público" e "Expressão".
NOTA: Eu, Vania Mara Welte, quero a paz entre todos os povos e jamais a morte de qualquer pessoa, muito menos a dor e a morte de crianças inocentes.



































































































































































































































.jpg)























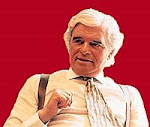














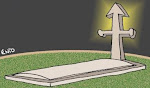



















































Nenhum comentário:
Postar um comentário