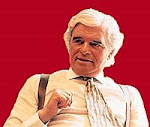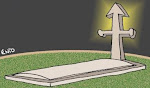O filme é de 1951, com Kirk Douglas, direção de Billy Wilder. No Brasil, chamou-se “A Montanha dos Sete Abutres”. Em inglês, “The Big Carnival”. É a história de uma tragédia, de um homem que fica preso dentro da montanha. Daria para salvá-lo depressa, mas um repórter esperto vê ali a grande oportunidade de sua vida: acumpliciado com algumas autoridades, arrumou um jeito para que o salvamento demorasse e gerasse muita matéria.
A imprensa mergulhou no caso, criando aquilo que hoje se chama “comoção social”, ou “clamor público”.
Em volta da montanha, acamparam curiosos, surgiram camelôs, montou-se um parque de diversões. O filme tem 57 anos – e pouca coisa é tão atual, não é mesmo? Quem matou a menina Isabella?
Não, não é este nosso tema: o que discutimos, na área de comunicação, é que, seja quem for o culpado, a imprensa já escolheu os seus culpados (que podem até ser os mesmos, mas terá sido pura coincidência). E, como no filme, não age sozinha: age com aquela autoridade que grita “assassinos” em vez de trabalhar para provar a autoria do crime.
Age com aquela outra autoridade que visivelmente se esforça para manter um olho numa câmera e não perder contato com outra câmera que pode vir a se aproximar. Age com autoridades que garantem que 92,47% do crime estão resolvidos, e não há repórter que lhes peça para elucidar a porcentagem.
Num caso de homicídio, apontar o responsável (ou responsáveis) e provar sua culpa representam quantos por cento do caso? O fato é que a opinião pública, movida em boa parte por nós, da imprensa, escolheu o seu lado.
Este colunista já ouviu idiotas dizendo que, se tivessem de encaminhar seu filho num fim de semana ao ex-cônjuge e à sua nova companhia, prefeririam fugir com a criança e enfrentar a Justiça.
Há gente – sim, são imbecis, mas nada impede que suas idéias se propaguem – que manifesta preconceitos contra madrastas (só madrastas: padrasto, ao que parece, para essa gente é mais confiável. Talvez por que, nos clássicos desenhos de Disney, as madrastas fossem piores).
Imaginemos que os acusados pela tragédia de Isabella sejam o pai e sua segunda esposa. Qual júri será isento o suficiente para julgá-los? E imaginemos que não sejam: quem reconstruirá suas vidas destruídas?
Isso não parece problema para muitos jornalistas: caso os culpados sejam outros, nada melhor do que escrever sobre o Bar Bodega, a Escola Base e botar a culpa nos colegas que não puderam se defender tão rapidamente.
The End
No filme “A Montanha dos Sete Abutres”, toda a imprensa americana aceita a história falsa, de que o salvamento teria de ser demorado. Quando morre a vítima, o repórter responsável pela armação telefona para seu editor e diz que a tragédia foi, na verdade, um homicídio. É a primeira verdade que o repórter diz. E o editor, irritado, lhe bate o telefone na cara.
O caro colega
Um jornalista muito bom, Guilherme Fiúza (que escrevia um belo blog no portal Nomínimo e escreveu o livro “Meu nome não é Johnny”, em que se baseou o filme), sabe o que é ser trucidado pela imprensa, porque esteve lá.
Seu filho pequeno estava no colo da mãe, na varanda. Ela tropeçou, o garoto caiu. “Em meia hora”, lembra Fiúza, “estava preso, com vizinhos dizendo que eu vivia brigando com minha esposa, que tinham ouvido na noite anterior ruídos de porta batendo, de muita gritaria.Coisa que surgiu na cabeça de vizinhos delirantes”.
A repórter Luísa de Alcântara e Silva, da Folha de S.Paulo, que fez a bela entrevista, perguntou-lhe o que mais o chocou no caso de Isabella. Responde Fiúza: “Quando eu vi a mãe dela chegando na delegacia e quase sendo derrubada por jornalistas, que são meus colegas. Acho que as pessoas enlouqueceram ao tratar uma mãe que perde uma filha dessa maneira. Falo da combinação perigosa de vizinhos fofoqueiros, delegados precipitados e a imprensa ávida por notícia. Falta respeito. É possível que o Alexandre seja culpado. Agora, a gente não sabe. Pode ser que não seja”.
O valor da testemunha
Qual o leitor desta coluna que já não foi incomodado por algum vizinho que imaginou festas em seu apartamento? Este colunista já foi acordado às 2h30 da manhã por uma vizinha que reclamava do barulho do pessoal que andava de salto alto. Naquele momento, o colunista era a única pessoa acordada da casa. E mesmo assim foi difícil convencer a vizinha insone.
Coluna de Carlos Brickmann, para o Observatório da Imprensa
Circo da Notícia - Abril de 2008
carlos@brickmann.com.br
Em tempo:
Eu mesma tenho uma boa vizinha, uma arquiteta, que já me acordou três vezes de madrugada por causa do "barulho que vinha da minha casa". Em duas ocasiões, ela jurava que o meu filho batia com alguma coisa na parede do quarto dele e o barulho retumbava no quarto dela, o que a impedia de dormir. Nas duas vezes, abri a porta da minha casa, levei-a até o quarto de meu filho para ela ver que não havia ninguém lá. O meu filho estava viajando, portanto, não poderia estar ali.
Na terceira vez, muito zangada, ela me perguntou que aparelho eu havia ligado, de madrugada, para fazer um barulho tão forte que ela não conseguia dormir. Desta vez, eu tive de levantar e ir até o quarto dela para ouvir o tal "ronco" de motor. Sorrindo, eu a trouxe para o meu quarto para ela ouvir o que era de fato barulho. O tal "ronco" de motor vinha da casa de uma outra vizinha e há anos. Jamais me incomodei com isso. Mas para ela, até então, era um barulho intenso e que saía da minha casa.
O que os outros "podem ver"
Aos 18 anos, eu já trabalhava e comprei o meu primeiro carro, sem que os meus pais soubessem. Quis fazer surpresa. Já tinha carteira de motorista e sai da loja dirigindo. E, muito mal, confesso. Mesmo assim fui até em casa e chamei a minha mãe para dar uma volta comigo. Ela ficou encantada com a minha aquisição e se prontificou a passear comigo.
Meio aos trancos, fui dirigindo pela rua da nossa casa, até decidir virar à esquerda. Chovia e o chão era de paralelepípedo. Eu me assustei com um carro na contramão e pisei com força no freio. O carro rodopiou, deu um cavalo de pau e tombou. Ficou com dois pneus para o alto. Com o carro virado, minha mãe ficou sobre mim. Fiquei apavorada, pensando ter matado a minha mãe.
Graças a Deus, nem ela e nem eu sofremos um único arranhão. Imediatamente, nós conseguimos sair do carro. Em seguida, fomos até a esquina para telefonar ao meu pai. Neste instante, vimos muita gente correr em direção ao carro tombado, proximo à esquina da rua Visconde Taunay com a Augusto Stellfeld, em Curitiba.
Depois de falarmos com o meu pai, minha mãe eu retornamos ao local e, como qualquer outra pessoa, ficamos olhando e ouvindo. Minha mãe, então, perguntou o que havia acontecido. Um rapaz lhe disse que tinha visto tudo. "Era um bando de "play boys" - palavras da época - e todos os rapazes estavam drogados. O carro deve ser roubado", disse, para espanto de minha mãe. E o que o moço contou ter visto foi testemunhado e corroborado por outras pessoas que estavam no local.
Nós duas nos olhamos e rimos, sem falar nada. Felizmente, a mentira deles não nos causou nenhum mal. Mas aprendemos, naquele instante, o quanto as pessoas podem ser mentirosas descaradas e levianas, só para serem protagonistas de algum evento.
Ah! Aprendi também, com alto custo financeiro, o quanto o carro pode se tornar uma arma letal em mãos inábeis. Fui treinar mais, antes de sair para as ruas da cidade e causar outros acidentes mais graves. Foi uma estréia e tanto.
Mas jamais esqueci as duas grandes lições daquele dia.
Vania Mara Welte


































































































































































































































.jpg)